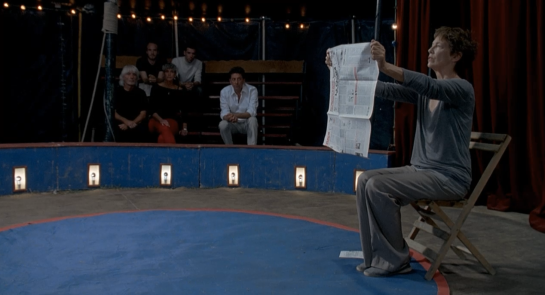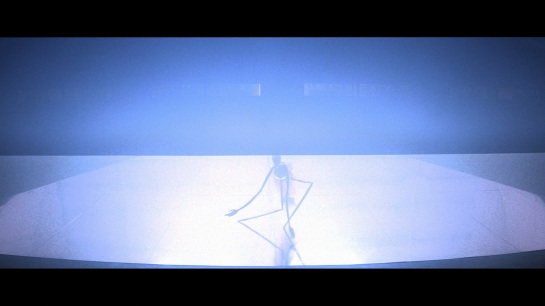Caro Bernardo,
Estas poucas linhas que torno públicas vem de uma profunda admiração por suas reflexões a partir de dois meios que pouco domino e você consegue transcender para além de suas funções determinadas nas mídias: a entrevista e o twitter.
Leio suas entrevistas sempre com imenso prazer e a clareza de que não estou simplesmente tomando contato com pontos de vistas privados sobre o mundo e a arte (no caso, a música), e sim que ali está um rico material de pensamento sobre visão de mundo e forças produtivas que mobilizam artistas a pensar a realidade, a política e a expressão estética.
Já tivemos diversas “conversas” no twitter (@entrecritica), mas como não sou um escrevinhador de marca maior da ferramenta não consigo ir além de fagulhas, coisa que você já superou há muito. E se decidi escrever esse troço é no desejo de conversar com seu trabalho que tem me instigado a pensar muito sobre a política do país, o estado da cultura e das – olha o palavrão! – artes no Brasil atual (considerando que você despertou em mim esses instintos mais primitivos, como diria o poeta, via mensagens fragmentárias de centoequarenta caracteres, trata-se de uma proeza inigualável que eu nunca conseguiria imitar).
Apesar de parecer um texto fundamentado, escrevo de impulso, pois não sou um analista político nem filósofo, o que torna qualquer um desses pensamentos uma ideia tacanha a ser investigada. Porém, pensar que escrevo para alguém específico que acredito ter inquietações próximas me parece um recurso retórico fluido para o pecado prestes a ser cometido por mim de lidar com algo fora da minha área de interesse, o cinema. Já peço perdão de antemão, ainda que isso não me dê consciência suficiente para parar por aqui.
Muita gente tem dito por aí que a Constituição de 88 não existe mais ou não faz mais sentido. Outras tantas tentam descrever o processo que leva à sua falência e remetem às manifestações de Junho de 2013 (Jessé Souza, Marilena Chauí), ao mensalão (especialmente os “pensadores”conservadores que pintam na GlopistaNews) e até mesmo ao surgimento do Plano Real (como o economista André Perfeito). Concordo com o diagnóstico da Constituição e a necessidade de uma nova carta magna, mas, a título de provocação, vejo pontos cardeais bem mais específicos para representá-la: a Constituição de 88 começou a ser gestada no dia 21 de junho de 1970 ao meiodia e desmoronou na terça-feira, dia 8 de julho de 2014, mais especificamente às 17h29. Tricampeonato mundial de futebol e Mineiraço.
É chover no molhado dizer que a seleção de 1970 é a expressão maior do futebol brasileiro. Eu vou mais longe: a vitória do Brasil sobre a Itália no Estádio Azteca é a fagulha de um pacto trabalhado a partir dali até a promulgação da Carta Magna em 1988. Essa nação obviamente não existia ali, nem passou a existir no dia seguinte. O país passou por um longo período de trevas até ser uma nação participativa. Ali se vislumbra o que poderia ser a nação que as elites brasileiras concordavam em firmar. Ela se sintetiza no quarto gol do Brasil: com a bola passando de pé em pé por quase todo o time, do lado esquerdo da zaga, a começar por Tostão (sim, nosso camisa 9 estava na defesa) e terminando no balaço do Capita na ponta direita do campo italiano, é a realização coletiva de um povo que tinha apenas seu suor, sua malícia e espírito criativo, a organização estética do que seria essa coletividade feita de bravos homens talentosos e batalhadores, comandados por um rei negro, mas que até ali nunca fora nação pela precária integração e a falta de símbolos naturais, surgidos da própria feição de seu povo. Aquela final é esse símbolo se formando cuja expressão formal acabada se dá na coreografia dos corpos daqueles onze homens. Vejo uma foto do chute de Carlos Alberto Torres naquele jogo, e só penso no Napoleão de David ou na Liberdade de Delacroix.

Nossas elites souberam muito bem capitalizar sobre este símbolo nacional. Não acho que seja simplesmente a seleção brasileira utilizada como ópio do povo. Ela solidificou um mito, o de nossa “selvageria afetiva” que se expressa na cordialidade, criatividade e alegria da gente brasileira. O que as elites fizeram foi sustentar um grande acordo tendo isso como baliza. A Constituição de 88 é a tábua dos mandamentos desse projeto das elites, solidificando o acordão entre os grupos do teatro político da ditadura civil-militar. Principalmente, esse projeto consolidado pela Carta Magna instituiu a anistia de nossos males, o primeiro deles sendo a herança escravocrata, que continua a ceifar qualquer possibilidade de um pacto social realmente descente, em seguida a violência histórica da exclusão de grande parte da população dos direitos básicos do ser humano, e, por último, a barbárie da tortura e do terror de Estado. Como compensação pela dura borracha, o Estado seria o paizão que a duras penas se mostraria solícito para as necessidades básicas dos cidadãos, contanto que privilégios adquiridos desde os tempos mais primórdios dessa terra se mantivessem, num certo equilíbrio tacanho. E, assim, de pé em pé, as elites forjavam uma nova república de bananas, deixando pra depois todas as questões espinhosas de uma democracia plena. Ou seja, uma jogada conciliatória de alto risco, mas tranquila, favorável.
Da mesma esperteza elas se valeram em 2013 quando federalizaram as manifestações de junho, tornando o estopim municipal, pontual e fragmentado – o protesto contra o aumento das passagens do transporte público – em uma grande insatisfação nacional contra o governo da presidenta Dilma Rousseff. Sim, concordo com aqueles que acham que o golpe de 2016 começou ali. O gigante acordado pelos protestos foi o velho dinossauro escravista de nossas elites, enxergando ali a fenda necessária para retomar as rédeas rapineiras do país e (re)colocá-lo na trilha sanguessuga. A elite brasileira sempre teve talento para a vanguarda do atraso (com São Paulo à frente, a locomotiva desse Brasil).
Junho de 2013 ainda terá sua crítica e os membros do MPL ainda serão duramente julgados pela história. Não porque incentivaram os protestos, já que o MPL teve a força inédita de congregar as pessoas em torno de uma causa, algo assustadoramente inusitado naquele momento, e dar forma às manifestações. Com a forma pronta, porém, os jovens manifestantes foram a público e fizeram o que todo jovem faz muito tranquilamente – besteira. Entregaram de bom grado a forma pronta para qualquer conteúdo que se prestasse a preenchê-la, deram ao fascismo das elites brasileiras as fileiras de pessoas nas ruas, sem o trabalho sujo de ter que ordená-las. O MPL entregou o movimento organizado; às elites (imprensa na frente) bastou causar a balbúrdia. Está registrado em imagens e elas não me deixam mentir: rodeados pelos grandes abutres da mídia, regurgitando os anseios dos grandes barões dos jornais e do latifúndio político, dois representantes do MPL foram ao Roda Viva no dia 17 de junho de 2013, mesmo dia da (até então) maior manifestação em São Paulo, dizer que não havia um líder, não havia um representante nem uma corrente política e sua única pauta era o transporte público gratuito. Sob a aparência de vitória de uma nova forma de política, contemporânea, fluida e horizontalizada, aí, ao vivo, o golpe começou. A mídia passou a elogiar a insatisfação popular contra tudo o que estava errado e, sem ninguém que assumisse a frente do discurso – fosse uma figura ou um movimento, já que os MPLs da vida se retiraram da parada – as editorias dos jornais assumiram a direção. É só ver como os protestos ao longo da Copa do Mundo no ano seguinte, mais localizados e novamente municipalizados, não repercutiram e se tornaram nota de rodapé no discurso midiático.
Mas aos 29 minutos do primeiro tempo da semifinal da Copa, o pacto nacional conciliatório, que sublimou da história as feridas de escravismo, militarismo e violência do Brasil ao custo de não mexer nos privilégios instituídos aos doutos, burocratas e rentistas, se rompeu. O quinto gol da Alemanha rima copiosamente com a maior obra humana da nação brasileira, só que, desta vez, somos os italianos, correndo feitos bobos, numa coreografia de corpos desajeitada, sem qualquer verossimilhança com o domínio performático de quatro décadas antes. Sami Khedira estufou as redes que prendiam em seus fios as perversões coletivas atávicas, espalhando todo seu conteúdo rançoso no ar. As imagens do seteaum são como o Inferno de Bosch travestido de verdamarelo. Fico estarrecido com a jovem morena com a mão na boca, incrédula com o que presencia, vestida com a camisa amarela da seleção brasileira, com o rosto pintado e um cocar fantasista bem ajeitado. Muitas contradições estão ali e foram captadas com presteza pelas câmaras da transmissão da TV sob a voz oficial de Galvão Bueno. O timing foi perfeito.

Já disse a alguns amigos que o seteaum não é a prova de nosso subdesenvolvimento ou a recolocação do país em seu devido lugar de onde nunca deveria ter saído. Ele é apenas um símbolo à espera de um golpe, disponível para ser preenchido por qualquer significado de primeira ordem que articulasse forma e conteúdo com algum senso de oportunidade. Com isso quero dizer que o seteaum era, aos 29 minutos de jogo, forma disponível e seu conteúdo foi articulado ao vivo pelos narradores de futebol que retransmitiam uma mensagem de fim de mundo para todo o país. Os emblemas, em grande parte das vezes, fica pronto antes do sentido. Os golpes, no Brasil, são estéticos.
Sempre me chamou muito a atenção que, ao contrário de outros movimentos que se utilizaram dos símbolos nacionais, muitas vezes de maneira reacionária, agora as passeatas pró-impeachment escolheram a camisa da seleção brasileira de maneira ostensiva. Para mim pelo menos, marca a força desses dois pontos cardeais que eu acho fundamentais como emblemas de um pacto nacional. Não acho que seja apenas por causa da cor – é por causa disso também –; a força do símbolo seteaum usado como representação das insatisfações catalisadas pela mídia e organizadas em junho de 2013 ainda permanecia latente quando o golpe chegou à antessala (hoje acho diluído como símbolo e forte como trauma esportivo – o seteaum já não tem utilidade dramática).
Mas há uma diferença na flâmula ludopédica de 1970 para a de 2016. E qual seria ela? A Nike. Não como megaempresa, nem como mercenária, mas como presença simbólica. Ou melhor: sua ausência na camisa-da-seleção-nação e sua indisfarçável marca na camisa-da-seleção-golpe. Nosso símbolo nacional secular tornou-se mercadoria e amplamente acessível (não conheço ninguém que tenha uma camisa da seleção de 1970 original).
Aqui entra, Bernardo, o principal motivador dessas linhas. Sei que você é bastante crítico aos críticos do acesso via consumo da política lulista. Sou um deles. Mas em partes. Pois reconheço que o acesso por si só é evidentemente bom. Vindo de Osasco, numa família nordestina advinda da classe trabalhadora (meu avô paterno, analfabeto, foi eletricista na construção civil até os 70 anos de idade, minha mãe foi caixa de supermercado por cinco anos, meu pai só encontrou sua vocação aos 50). Sou o segundo membro da família com diploma (uma tia minha foi a primeira, em curso de administração de empresas bancado pela multinacional onde trabalha para se especializar na contabilidade de balanços que permitissem à empresa pagar menos impostos), o primeiro pós-graduado. Não coloco isso como uma forma de me aproximar de camadas populares as quais não faço parte porque minha renda mensal está numa faixa que me coloca mais perto das elites que desprezo. Muito menos tenho a intensão de valorar experiências distintas da sociedade brasileira. É apenas o máximo de relato pessoal que eu posso fazer aqui como ilustração: se tenho a oportunidade de abrir um diálogo público com você, é por um acesso aos bens simbólicos e materiais que as duas gerações anteriores à minha não tiveram apesar do árduo trabalho (e posso dizer que fiz bem menos que eles para ter esse acesso). Imagino para pessoas com condições de vidas bem mais precárias em 2002 o que as políticas de acesso pelo consumo não representaram. Esse ganho humano para a sociedade brasileira é notável e os estudantes secundaristas ocupando escolas apesar da truculência das polícias é um fio de esperança de que algo possa ser melhor no futuro – essa é minha reserva de inocência e esperança que ainda não foi consumida pela realidade: a jovem estudante paulista defendendo suas cadeiras contra a violência do policial atônito com sua força é o nosso 3 de Maio de 1808, de Goya; as ocupações das escolas são demonstração de audácia que nem eu nem meus pares nunca tivemos; e a jovem Ana Júlia discursando corajosamente diante da pior corja de salafrários da política matou, numa tacada só, a turma dos protestos de junho de 2013 e nossa geração no jogo de forças simbólico da representação.
Os gestos desses jovens em negar a identidade com o lulismo para afirmarem-se como nova força política de transformação social do Brasil só mostra que essas políticas realmente frutificaram. O sucesso do lulismo é o seu fim: dar acesso aos bens culturais, materiais e simbólicos desemboca em sua superação, a afirmação dos sujeitos como agentes políticos. Uma geração que enxergue Lula como um símbolo importante, mas que reconheça sua defasagem – como observo os estudantes secundaristas fazerem atualmente – só comprova o sucesso do lulismo.

A firmeza de minha crítica ao acesso não é pelo acesso em si. Viver no presente enquanto estamos guerreando com o passado e o futuro do país (como você escreveu num ótimo tweet recente – sua capacidade de síntese continua a sempre me espantar pela precisão das palavras e força das ideias) entre nós, um grupo de letrados de classe média esclarecida progressista que ainda acha que podemos ser povão, sem entender as verdadeiras contradições desse gesto, que são uma parte das contradições da sociedade brasileira como um todo que a Constituição do Doutor Ulysses tentou contornar, é talvez a mais heroica das posturas. Quem não tem nada a perder olha pro que não tem; quem pode perder tudo, olha para o que deve proteger.
Sou crítico com o que o lulismo fez com o consumo. A cultura consumista no Brasil não foi inventada pelo PT (muitos membros da esquerda moralista gostam de pensar que sim) nem pelo PSDB. Parte importante do pacto social tecido lentamente ao longo da ditadura militar foi tingido pela abertura ao mercado de massas: carros, geladeiras e televisores. Entramos no consumismo pelo militarismo (me impressiona que tudo que parece libertador no Brasil chega pela via autoritária). O lulismo fez foi transformar todas as áreas da vida nacional em mercado. Sua política fez das cifras a medida de todas as coisas nossas. Elas precisam ter valor e, para isso, tem de ter valor de troca, permitirem-se acessíveis, econômica e simbolicamente. Meu problema não é com o acesso aos bens materiais ou culturais com o crédito consignado ou bolsa do que quer que seja – quanto mais gente participando do debate público e da partilha de bens simbólicos e culturais, melhor para produtores, agentes, criadores e público – mas o ideário, fiado por Lula em pessoa, de que tudo deveria ser mercadoria, logo: vendável, trocável, acessível. Repito: o que não tem valor de troca, não tem valor; o que não é acessível, não merece ser acessado.
Esse entendimento me parece fundamental para a crítica hoje, seja ela política, sociológica ou artística. A própria ideia de crítica foi transformada em pensamento bulinador ou blindagem do beletrismo espalhado pelos espaços bancários de cultura, cafés futons de livraria sofisticadas e bares-igrejinhas alternativos das grandes capitais brasileiras. O quinhão da cultura hoje está defasado e poucos estão dispostos a enfrentar as contradições. Não a esquerda festiva, que continua sem entender que festa de protesto é festa e não protesto. Não os críticos culturais que buscam identificação nas obras para resolverem seus problemas psicanalíticos. Não os comentadores musicais, em geral senhores bem vestidos e cultos, que recusam o funk como vulgaridade nem aqueles, brancos descolados apreciadores de boa cerveja e petiscos finos, que o acham autêntico. Não os críticos de cinema que continuam a reproduzir as mesmas pautas de meio século atrás para requentar uma melancolia de não ser francês na Paris dos anos 1950. Nem os acadêmicos, famintos por fazer do conhecimento sua propriedade privada.
Na parte que me cabe, as discussões sobre cinema vez e outra caem em emblemas como “hermetismo”, “relevância”, “popular”. Sempre a baliza é o resultado de bilheteria. Não que isso deva ser ignorado, afinal o volume de dinheiro (na maioria das vezes, público) utilizado para sua realização não é bolinho. Só que em nenhum momento entra em discussão o sentido dos emblemas. O que é popular? Ou relevância? E a baliza é o dinheiro. E ainda muitas pessoas inteligentes consideram que hoje a discussão é mais consciente que nos anos 1960 quando o popular vinha de bases socioculturais, hoje estigmatizadas como conversa de uma elite cultural que não fazia ideia do que era o Brasil. Evidente, mas hoje não estamos muito melhor: a baliza saiu dos livros e entrou nas planilhas de Excel. Coloco isso para pontuar como os emblemas ganharam quase autonomia e aí, qualquer discussão é superficial, pois não se ataca as contradições dos discursos, dos eventos, das músicas, dos filmes, dos textos, dos intelectuais, das manifestações. A ingenuidade geral é muito forte para ficarmos em silêncio. Por isso esse esboço de crítica que compartilho contigo.
Pois, desconfio que a origem do impasse é simples: ninguém está olhando para as coisas. Não para as coisas como elas são, mas como elas imaginam que sejam, como selfies de suas próprias consciências. Digo isso desde o pão quente na padaria até ao último disco do MC Naldo. Ninguém está indo às coisas, pegando, sentindo, observando, ações simples, entretanto fundamentais. Caetano queria devorar Leonardo DiCaprio. Hoje ninguém quer devorar nada. Ninguém está fungando, lambendo, chupando, tocando as coisas. Ninguém está rolando na merda. Ninguém está ouvindo, ninguém está gritando. Ninguém está fazendo maldade (todos querem ser bonzinhos). Ninguém está entendendo nada. Talvez porque não haja nada pra entender. Talvez porque ninguém quer é entender mesmo. Mas ninguém está entendendo absolutamente nada. Por isso, esse golpe é estético.
Aquele abraço, Raul.